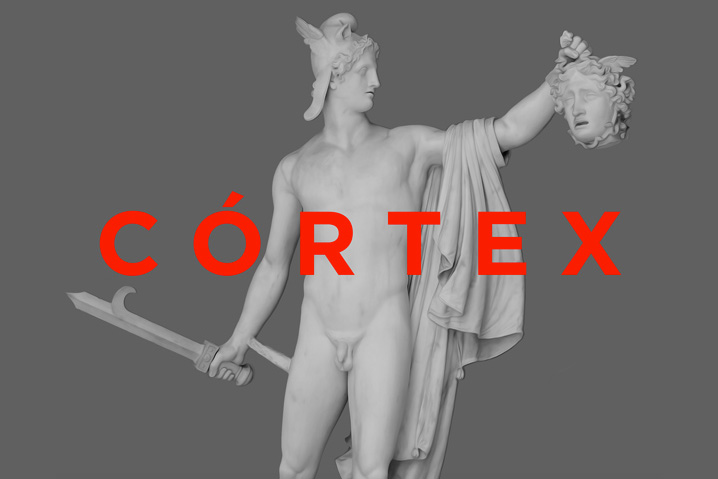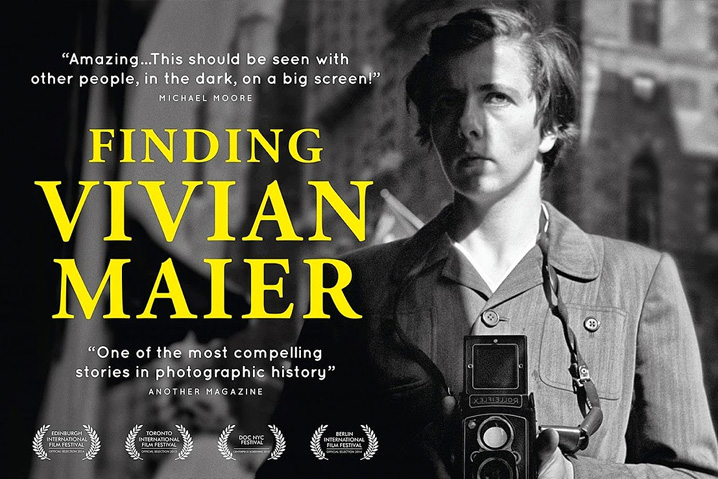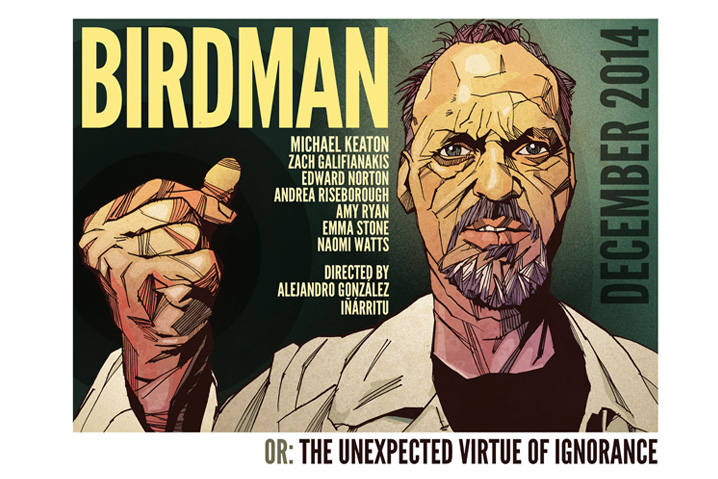É em meados de fevereiro que chega aquele domingo empolgante que nos deixa acordados até às tantas, onde a sétima arte é comemorada numa cerimónia repleta de surpresas, gargalhas e outros gestos mais embaraçosos. É, também, uma altura que, inevitavelmente, nos remete para as condicionantes de Hollywood e a desmoralização do seu sistema vicioso – como foi mais do que comentado ontem, é sabido que as oportunidades são limitadas e os vencedores estão destinados, desde todo o processo de nomeação, a seguir uma conduta específica. Porque, regra geral, os vencedores dos Oscars não são necessariamente os melhores, mas sim os mais adequados. E é aqui que se devemos centralizar o debate.
A Academia tem uma preferência. Ou pelo menos tinha, visto que a sua composição pode estar prestes a mudar devido à nova reforma que visa garantir a diversidade dos seus membros. Mas, de qualquer forma, tem existido um padrão. Há uma primazia por filmes grandiosos, épicos, históricos, de guerra e principalmente que enalteçam os Estados Unidos da América como nação. É neste universo, onde em 1976 Rocky ganha o Oscar de Melhor Filme ao invés de Taxi Driver, que a Academia está entranhada. Atenção, não queremos retirar mérito a Rocky e reconhecemos toda a sua homericidade mas a realidade é que Taxi Driver aborta além do trivial, narra uma história irreverente para o seu tempo e fica-se por aí, nesse limbo, exemplificando com grande mestria a dificuldade que a Academia tem de olhar mais além, de analisar a sua era e a próxima. De ter medo de arriscar.
Analisemos o caso deste ano, relativamente aos filmes nomeados para o Oscar de Melhor Filme: A Ponte dos Espiões, A Queda de Wall Street, Brooklyn, Mad Max: Estrada da Fúria, Perdido em Marte, O Caso Spotlight, Quarto e The Revenant: O Renascido, o filme que finalmente ministrou o Oscar de Melhor Actor a Leonardo DiCaprio. Esteticamente, e cedamos um aplauso ao realizador Alejandro González Iñárritu e ao director de fotografia Emmanuel Lubezki, o filme é um ilustre exemplo do bom uso do avanço tecnológico e dos riscos que o cinema deve tomar e nunca abdicar. No entanto, há que considerar o óbvio. A história, embora seja a adaptação de um romance, tem, claramente, muito pouco a acontecer; é um espectáculo de imagem que, bem espremido, tem pouco recheio. E, embora se pareça como uma sinfonia harmoniosa, com planos-sequência deliciosos e uma fotografia que se aproveitou somente da luz natural, temos de falar precisamente sobre o… som.
Ficámos especialmente surpreendidos quando vimos o Bafta de Melhor Som ser entregue ao filme de Iñárritu. E a pergunta é: como assim? Não querendo denegrir totalmente a mistura e edição de som, que é bem utilizado fora do diálogo, mas, para todos aqueles que viram o filme com atenção, é um facto que a dobragem está cabalmente mal feita. Até poderia ser considerado artístico, ou mesmo propositado se nos encontrássemos sempre imersos nos pensamentos das personagens, mas não é o caso. É do saber do público cinematográfico que, regra geral, as personagens têm de se dobrar a si mesmas para garantir uma boa qualidade a nível sonoro. Mas se era compreensível que nos anos 50 essa dobragem fosse óbvia e existissem vários delays na fala, no século XXI, num filme deste calibre cuja intenção não é evidentemente recriar esse ambiente, é intolerável. É desconfortável que Leonardo DiCaprio fale e a sua boca não se mexa, ou que a sua boca se mexa e não haja diálogo – e isto acontece, mais do que uma vez, ao longo de todo o filme.
Felizmente, evitando o embaraço do caso do Som sobre o qual ninguém quis falar, o grande vencedor acabou por ser o Caso Spotlight, que venceu não só o Oscar de Melhor Filme mas também o Oscar de Melhor Argumento Original. Mas não nos esqueçamos do gigante Mad Max: Estrada da Fúria, que como blockbuster rebenta o cérebro de qualquer intelectual e ainda tem a particularidade de louvar o feminismo, arrecadando a maior quantidade de Oscars (6 no total), entre eles Melhor Direcção de Arte e Melhor Edição. Não nos esqueçamos de Quarto, o ensaio ternurento e assustador da vida num cubículo e do que resta depois disso, no Mundo, que cedeu o Oscar de Melhor Atriz a Brie Larson e merecia ter conquistado pelo menos uma nomeação ao pequeno Jacob. Não nos esqueçamos daqueles que não foram galardoados – recordemos Anomalisa, Mustang, 45 Anos ou Steve Jobs com toda a atenção que merecem. Apesar de não representarem um todo, desempenham os nossos papéis de indivíduos que sofrem com a angústia de viver e lutam contra o quotidiano.
Mas, principalmente, lembremo-nos daqueles que injustamente não obtiveram o debate merecido. Não nos esqueçamos de Tangerine, que, filmado com o iPhone 5S, com um elenco completamente extraordinário e parcialmente desconhecido e um argumento tão simples como eficaz, aniquilaria metade dos nomeados desta edição. Não nos esqueçamos de Taxi, o documentário ficcionado realizado por Jafar Panahi que, apesar de estar proibido pelas autoridades do Irão de fazer cinema, decide arriscar na sua paixão e revelar a complexa e triste realidade sentida no país.
Que nunca nos esqueçamos do cinema, mas que prestemos especial atenção às obras daqueles que se escoriam para o fazer. Não tomaríamos o assunto com seriedade se os Oscars não fossem o evento que mais condiciona o público geral nas suas preferências de visualização. Mas, por favor, lembremo-nos que são, como qualquer outro festival, uma cerimónia com um conceito, e que esse conceito é, claramente, discutível – e não absoluto. Não nos esqueçamos da humildade e não elejamos nomes porque ficam bem ou porque são os expectáveis.
Não nos esqueçamos, especialmente, do circuito dos festivais e da certeza que é neles onde aparecem as mais destemidas e despretensiosas apostas cinematográficas. Sejamos divergentes mas, acima de tudo, tenhamos noção de que o cinema não se resume numa gala.
O cinema são todos os nossos dias.